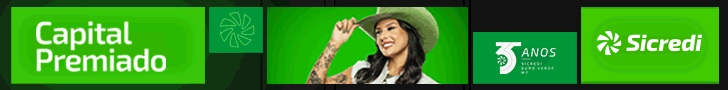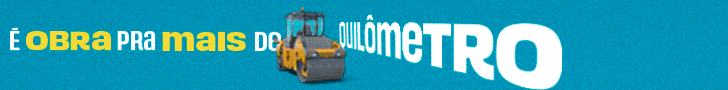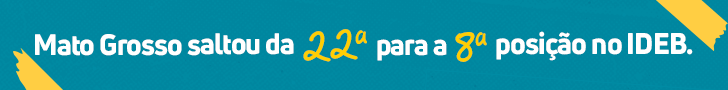Uma combinação entre a termovinificação — processo que aplica calor às uvas em maceração antes da fermentação alcóolica — e o uso de leveduras autóctones, isolados da microbiota natural de uvas Vitis viniferas da região do Vale do São Francisco, tem se mostrado eficaz para melhorar a qualidade dos vinhos Syrah produzidos no semiárido brasileiro. Uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e da Embrapa, no Vale do São Francisco, em Petrolina, PE, concluiu que a técnica melhorou a eficiência do processo de fermentação e aumentou o teor alcoólico do vinho tinto.
Ao utilizar leveduras nativas, a técnica também fortalece a identidade regional da bebida e promove o valor agregado à produção local, além de contribuir para a economia circular, uma vez que as leveduras podem ser posteriormente comercializadas.
A técnica de termovinificação foi otimizada pelo grupo de pesquisa. O método utilizado consiste em aquecer as uvas a cerca de 65 °C por duas horas, favorecendo a degradação de compostos fenólicos, eliminando microrganismos indesejáveis e diminuindo a atividade das enzimas pectinolíticas.
Destaca-se que essa técnica tem se tornado cada vez mais popular na produção de vinhos tintos destinados ao consumo como vinhos jovens ao redor do mundo, podendo contribuir para aumentar a intensidade da cor, estrutura e a vida de prateleira da bebida.
Esse estudo foi fruto da tese de doutorado de Islaine Santos Silva, da Universidade Federal da Bahia, e segundo ela, os resultados indicaram que a termovinificação melhorou a eficiência do processo fermentativo — que durou 14 dias — e proporcionou maior produção de etanol ao vinho, com teores finais de até 14%.
Leveduras autóctones, isto é, que se originaram da região onde são detectadas, apresentaram bom desempenho mesmo em condições adversas, como alta concentração concentrada, contribuindo com um metabolismo mais lento em comparação com a levedura comercial S. cerevisiae var. bayanus (controle). Esse metabolismo mais lento pode proporcionar maior complexidade aromática ao vinho. “Assim as leveduras autóctones podem originar uma identidade sensorial única que pode ser estratégica para valorizar os vinhos do Vale do São Francisco no mercado nacional e internacional”, destaca Silva.
Marcos dos Santos Lima, professor do curso de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, explica que o estudo também analisou a formação do glicerol ao longo do processo fermentativo — álcool que se forma durante a fermentação, e que está presente em concentrações entre 5 e 15g/L nos vinhos tintos, podendo suavizar as sensações de acidez e adstringência e ao mesmo tempo realçar o corpo e a percepção de notas frutadas. O maior teor de glicerol (9,70 g/L) foi registrado em um dos tratamentos com fermento automático.
Segundo a analista da Embrapa Uva e Vinho Bruna Carla Agustini, as leveduras autóctones Hanseniaspora opuntiae 4VSFI10 (BRM 044661) e S. cerevisiae 45VSFCS10 (BRM 43894) foram isoladas das uvas das cultivares Itália e Cabernet Sauvignon cultivadas na região do Vale do São Francisco, sendo identificadas por meio de espectrometria de massa utilizando a técnica de ionização/dessorção a laser assistida por matriz com análise por tempo de voo (MALDI-TOF) e biologia molecular, empregando a ocorrência em cadeia da polimerase (PCR) combinada com polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição (PCR-RFLP).
“O uso de espécies não- Saccharomyces na vinificação tem despertado interesse em virtude da capacidade dessas leveduras em melhorar a qualidade aromática dos vinhos”, comenta Bruna. Ela explica que no passado, essas espécies eram consideradas deteriorantes por formarem aromas específicos no vinho ou por estarem associados às paradas de fermentação.
Porém, atualmente, verifica-se que seu uso em conjunto com leveduras Saccharomyces resulta na formação de um perfil aromático atraente e distinto no produto. “Isto foi evidenciado nos vinhos desse projeto nos quais empregamos uma cultura mista de Hanseniaspora opuntiae e Saccharomyces cerevisiae, os quais apresentavam uma maior complexidade química e sensorial quando comparados com os demais”, avalia Bruna.
Para Aline Biasoto coordenadora do projeto, aprovado para financiamento no Sistema Embrapa de Gestão, e atualmente pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, a combinação entre práticas enológicas inovadoras e o uso de recursos microbiológicos locais representa uma alternativa sustentável para a produção de vinhos em regiões de clima quente e seco e no cenário de mudanças climáticas. “A tecnologia entre ciência e inovação pode posicionar o Vale do Submédio São Francisco como um polo de vinhos diferenciados”, afirma.
O trabalho foi conduzido na Embrapa Semiárido, onde foram elaborados os vinhos. As uvas utilizadas para a vinificação são da cultivar Syrah, conduzidas em sistema espaldeira e irrigadas por gotejamento. As uvas foram colhidas do Campo Experimental de Bebedouro, localizado em Petrolina, PE. Para a pesquisadora da Embrapa Semiárido, Ana Cecília Poloni Rybka, que degustou os vinhos na análise sensorial realizada, a pesquisa traz resultados importantes, já que as técnicas são especialmente indicadas para vinhos de consumo rápido, e os vinhos tropicais do Vale do São Francisco são, na sua maioria, jovens.
Segundo Ana Paula Barros, professora do curso de viticultura e enologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, este estudo contribui para a valorização da recente Indicação de Procedência (IP) dos vinhos do Vale do São Francisco que ganha ainda mais relevância frente aos resultados da tese.
“A pesquisa demonstra como práticas enológicas e a exploração da microbiota local podem elevar a qualidade dos vinhos, reforçando o caráter único da região e fortalecendo a IP como selo de identidade e excelência do Vale do São Francisco”, acredita ela.